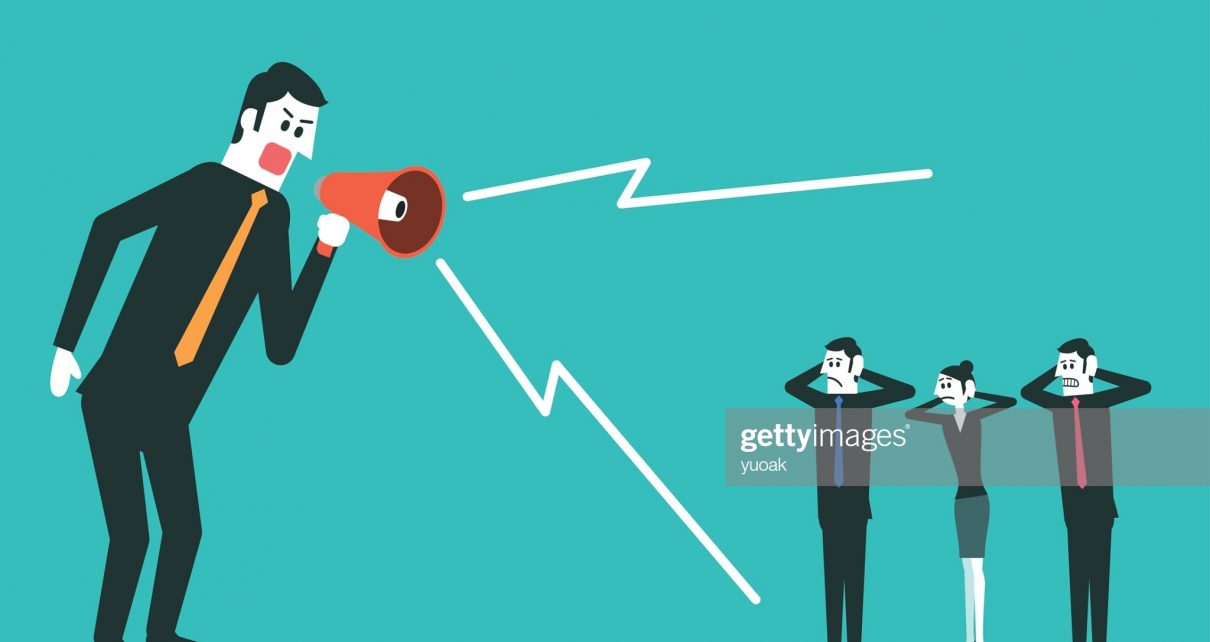O clima estava insuportavelmente árido na semana que passou. A Amazônia em chamas, a diplomacia brasileira em colapso e manifestantes em polvorosa na Praça do Papa. Atordoado pelo barulho que atravessava a janela, encontrei refúgio na sala de cinema mais próxima. Não escolhi o filme, nem comprei pipoca; apenas me entreguei à sessão que já começava.
Tão logo apagaram-se as luzes, deixei ser levado a uma terra desconhecida. Fui parar em “Bacurau”, um lugarejo fictício no meio do nada, que dá nome ao excelente filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.
Lá, eu conheci um povo simples e tradicional. Resistiam às agruras de um sertão que não encontrava lugar no mapa. Terra rachada, pobreza e miséria eram apenas velhas mazelas conhecidas. No entanto, a maior ameaça daquele povo sertanejo ainda lhe era desconhecida: o ódio de quem os odeia.
Observo essa gente odiada do conforto de uma cadeira de cinema. Pacato cidadão da capital como sou, a diferença entre nós é que eu existo no mapa – eles, não. E a floresta, eu não sei até quando. Mas não só de diferenças se faz a convivência. Há também um traço comum. Somos todos odiados: eu, eles e a floresta.
A figura que sentou no trono nos odeia. Sofre de verborragia raivosa aguda — e dizem que isso pega. Na dúvida, é prudente manter a distância. Afinal, as verdadeiras vítimas somos nós, os três odiados.
Alvos certeiros de uma metralhadora que cospe balas de ódio. Odeia o Nordeste, odeia a Amazônia, odeia o Carnaval. Odeia o índio, odeia o quilombola e não gosta de samba. Ruim da cabeça e doente do pé, pisoteia os nossos símbolos nacionais com seus enormes coturnos pretos.
Em “Bacurau” houve resistência. Enterraram seus mortos, lavaram o sangue do chão, mas deixaram as marcas visíveis nas paredes – é para não se esquecerem da história. Aqui, não corremos esse risco. Carregamos as marcas da história na própria pele: as chibatadas dos feitores, os chumbos da ditadura e, agora, o ódio do presidente.